E se as cidades pudessem respirar? Não apenas com o ar que atravessa as ruas, mas com traços, gestos e afetos que escapam do controle e marcam o espaço com humanidade. Há muros que parecem pulsar. Como se, entre camadas de tinta, cimento e tempo, algo ali estivesse vivo, dizendo sem dizer, insistindo em existir.
As cidades podem ser muralhas de concreto e asfalto, feitas de pressa, de ruídos, de passos. Mas também pode ter escuta. Há silêncios, abafamentos, existências. E nas frestas, mínimas, surgem traços que resistem. Grafites, rabiscos, desenhos. Tantas vezes ilegíveis aos olhos apressados, mas percebidos por quem caminha atento. São esses os lugares que respiram.
Há um tipo de corpo que se desenha nas paredes. Uma presença. Uma ausência que se faz visível. Um grito colorido no meio da cidade cinza. Assim como o sol insiste em iluminar o concreto, o grafite insiste em marcar a pele da cidade com memória, desejo, tentativa de existência.
A cidade pode falar, e também calar. Suas camadas são históricas, sonoras, imagéticas. A chamada “poluição visual” pode ser expressão legítima do excesso: de sons, de tensão, de esquecimento. A arquitetura aparece, nesse contexto, como vestígio de um olhar intuitivo, emocional, que pode nos conduzir ou convidar pelos becos da percepção.
Perder-se na cidade é, às vezes, a única forma de encontrá-la. Sem destino, sem rumo, como quem caminha só para sentir. “Tem que ficar esperto aqui.” ”Fulano tá vivo!” “Você é inspiração demais!”. Frases lançadas no ar, pedaços de uma música viva que não se escreve, apenas se escuta
Cada grafite é uma assinatura emocional, uma performance urbana, um gesto que antecede o pensamento. Ao contrário do raciocínio cartesiano: “penso, logo existo”, o grafite parece sussurrar: “sinto, logo estou aqui”.
Desde as inscrições nas cavernas até os muros da cidade contemporânea, há algo que atravessa os milênios: a vital necessidade de deixar marcas. É humano registrar a experiência, afirmar sua passagem, de dizer “eu estive aqui”, é tão antiga quanto qualquer ciência.
Os primeiros desenhos rupestres eram representações da caça, e também registros do sensível, tentativas de organizar o invisível, dar sentido ao mundo, criar pertencimento. Registrar a experiência, afirmar a travessia, dizer “eu estive aqui”, e talvez seja isso que nos torna humanos.
As primeiras imagens rupestres iam além de retratos da caça, parecem tentativas de traduzir o invisível, dar sentido ao mundo, criar laços. O grafite urbano, de certo modo, herda essa pulsão ancestral: inscrever-se no espaço para existir no tempo.
Se a cidade pode ser vista como um corpo, o grafite talvez seja sua pele sensível. Às vezes cicatriz, às vezes tatuagem. Muitas vezes, podem ser intervenções que partem de baixo para cima, da margem para o centro, da periferia para o coração. E, ainda assim, permanecem.
Henri Lefebvre, ao afirmar que o espaço é uma construção social, nos convida a suspeitar do óbvio: nenhum traço é neutro. Cada esquina, cada muro, cada vazio urbano é também expressão de relações de poder, de exclusões e desejos. O espaço, para ele, não é um dado, mas algo continuamente produzido por práticas cotidianas, decisões políticas, vivências e silenciamentos. Por isso, quando um desenho aparece onde “não deveria”, talvez esteja apenas escancarando o que foi negado. O grafite, nesse sentido, não surge como ruído, mas como linguagem insurgente. Um muro pode ser um obstáculo, mas também grito. Uma fronteira, ou uma possibilidade de encontro.
Walter Benjamin via no flâneur aquele que caminha sem pressa, permitindo-se pensar com o corpo, e pela cidade. Para ele, a experiência urbana é feita de fragmentos que se oferecem ao olhar: fachadas, vitrines, inscrições, tudo pode tornar-se pensamento, memória, evocação. O flâneur não interpreta a cidade, ele a experimenta como quem percorre uma constelação: os sentidos se formam por aproximações sensíveis e não por lógica linear. O grafite, assim, não seria só imagem, mas lampejo, um instante que interrompe o fluxo automatizado do cotidiano, uma fissura no tecido do habitual que nos faz perceber aquilo que antes passava despercebido.
A cidade é escrita e reescrita, rasurada e novamente marcada. E o grafite é uma dessas camadas, talvez a mais autêntica, pois nasce do gesto livre, genuíno e espontâneo. É arte que não pede permissão, que rasga a ordem, que revela o avesso da paisagem urbana.
O nome grafado no muro às vezes assina, às vezes silencia. Há quem escolha o anonimato como poética, porque importa menos o rosto e mais o rastro. Mesmo com a crescente visibilidade de artistas urbanos, o grafite parece preservar algo essencial: sua natureza efêmera, coletiva, fugidia.
Andar pela cidade, nesses contextos, é também compor uma cartografia sensível. A cada esquina, um traço. A cada gesto, uma reivindicação de espaço. O grafite pode ser essa entrega silenciosa ao comum, arte pública, mas também íntima.
Há traços que reivindicam território. Marcam presença onde antes havia silêncio. Cada grafite pode conter histórias que a cidade preferiu não contar. Narrativas submersas. Afetos, memórias, dores e festas. Uma estética de sobrevivência. Uma poética da permanência.
Nas pedras da cidade, há vestígios de outra cidade, uma que resiste em meio à pressa. As camadas revelam e ocultam, como se o tempo sussurrasse em cicatrizes. O grafite, nesse entrelugar, é gesto que respira.
Didi-Huberman nos diz que toda imagem é uma ferida, uma abertura no tempo que nos obriga a sentir. As imagens, segundo ele, não são espelhos do mundo, mas sobrevivências: carregam vestígios, deslocamentos, dor e persistência. O grafite talvez seja essa cicatriz viva que não representa a cidade, mas a atravessa. Sinal de que algo aconteceu e ainda pulsa. Porque o que é esquecido também é percebido. E aquilo que foi silenciado, ainda encontra uma forma de dizer: “Estou aqui. Eu existo. Eu respiro.”
Com esta pensata, caro leitor e cara leitora, o convite é menos a decifrar e mais a sentir: e se as cidades pudessem respirar? Que muros falam ao seu redor? Que espaços ainda insistem em existir, mesmo quando não deveriam? Talvez o grafite nos ensine a olhar com mais presença, a caminhar com escuta, a habitar com poesia. Porque nas mínimas existências urbanas, entre rachaduras e silêncios, a arte ainda respira. E talvez, nesse tempo tão veloz, precisamos não deixar que a cidade perca o fôlego.
Este texto nasceu de uma caminhada a pé pelo centro de Curitiba, guiada pelo instinto, pela escuta atenta e pelas memórias compartilhadas por um dos pioneiros do grafite na cidade. A foto que acompanha esta reflexão é de autoria própria, um dos registros que guarda um fragmento do tempo e da cidade daquele dia.
Referências utilizadas para escrever esta pensata:
BENJAMIN, W. Magia e técnica, arte e política: ensaios sobre literatura e história da cultura. 7. ed. São Paulo: Brasiliense, 2012. (Obras escolhidas, v. 1).
DIDI-HUBERMAN, G. Cascas: as feridas da imagem. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2017.
LEFEBVRE, H. O direito à cidade. São Paulo: Centauro, 2001.
Como citar essa pensata: Barbosa, Luíza Chiarelli de Almeida. O grafite nas cidades: Espaços que respiram nas mínimas existências urbanas. Schola Akadémia, v.4, n.1, p. 1-3. Disponível em: www.scholaakademia.com, 2025.
Sobre a autora

Luíza Chiarelli de Almeida Barbosa
Arquiteta e Urbanista, Mestre em Gestão Urbana e Especialista em Gestão Escolar e em Formação docente para EAD. Doutoranda em Gestão Ambiental. Coautora do livro Vales Imaginários: Anhangabaú. É professora nos cursos de Arquitetura e Urbanismo no Centro Universitário Internacional. Tem interesse de pesquisa nas temáticas relacionadas a Filosofia, Artemídia, Interações Socioespaciais, Comunicação, Cultura e Educação.



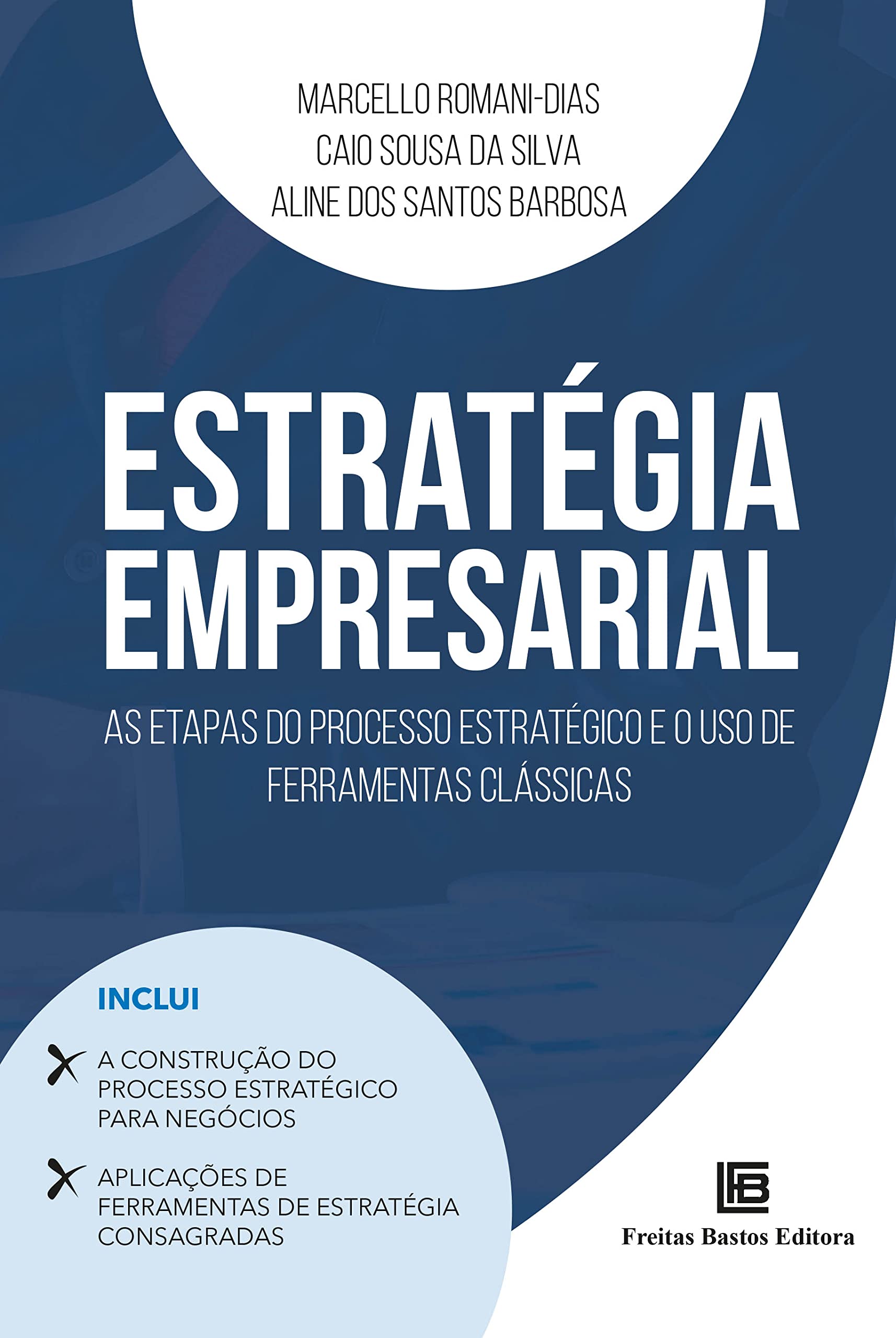

Que poesia e sensibilidade, simplesmente um texto riquíssimo, e a interpretação da cidade, como se gritasse, sem dizer nada! Parabéns
Danielly, que alegria receber suas palavras! 💛 Saber que o texto tocou você dessa forma me emociona e me dá ainda mais vontade de continuar escrevendo. Obrigada pelo carinho! 🌿✨
Muito Bom
Obrigada, Bruno! Que bom que gostou, é sempre gratificante receber esse retorno. 🙌